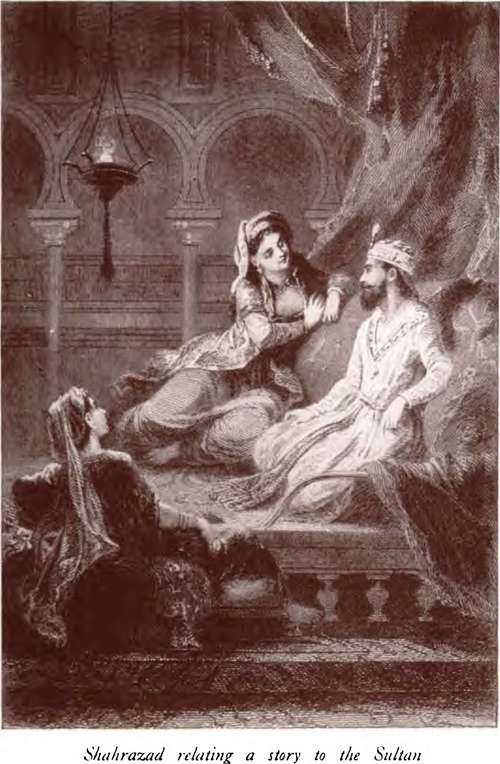Niterói, 03 de dezembro de 2012
Impaciente espero uma pessoa que compartilhará comigo
a solidão de uma existência. Sofro por esperar alguém que em breve estará ao
meu lado, falando ao meu ouvido palavras de carinho, afagando docemente meu
cabelo. Dói-me espera-la. Machuca-me, sobretudo, o fim deste amor: por indiferença,
pelas brigas, simplesmente, pelo esfriamento, ou, puramente, pela morte. Leve
poucos meses, leve longos anos: o amor é mortal por ser mortal seu hospedeiro.
Apesar das dores, espero. Levará um mês, ou, alguns
anos... Quem sabe não venha!
Fico a escrever, pois sou ansioso e odeio esperar...
Niterói, 03 de dezembro
de 2012
Por vezes deparo-me
com o coração palpitante de um amigo meu. Se não bastasse o coração
querer fugir de sua prisão carnal, observo mãos suando, olhos inquietos, fala
entrecortada. Diagnostico: de um mal
sofre meu amigo: paixão.
Arrebatado pela própria imagem refletida nesse belo
ser que acabou de conhecer, encontra-se epifânico. De tão leve que está, seus
pés não estão mais na terra; olha-nos de cima, lá do céu. O Sol que é esse
amado faz com que meu amigo não deseje estar mais entre nós. Ele quer luz, calor e altura. Tudo que
costumeiramente não encontramos aqui embaixo. Meu querido amigo percebeu o
quanto é bom voar. Levantou vôo.
É, entretanto, a altura que mete-lhe medo. Maior
altura, maior a queda. Seu coração palpita de paixão e de medo. A paisagem lá
de cima confere-lhe esperança, mas certo, para ele, é a dor de cair de um lugar
tão alto. A queda é certo, a esperança, mãe da ilusão. Meu amigo está confuso.
Se aqui escrevo, escrevo ao meu amigo para dizer-lhe
que não tenha medo. Não do medo do fracasso, pois esse está muito a frente e
pode nem vir a suceder. Que não tenha medo de voar, de experimentar, de sentir
a vertigem dos lugares altos. Não é necessário, entre nós, querido irmão e alma
gêmea, os conselhos da temperança: nos conhecemos demais para receitar-nos tal
preceito. Impulsivos e aventureiros que somos, resta-nos viver esses momentos e
apreciar as novas paisagens. Merecemos algumas horinhas de Sol.
Não tenha medo, amigo! A distância é sua. E, se por
acaso houver de cair, ora, estarei aqui embaixo para curar os ferimentos. Se
isso acontecer, e é provável que aconteça – cedo ou tarde – da minha boca não
sairá o veneno dos moralistas medrosos: “Eu te disse...”
Voe, e, quando estiver bem lá em cima, tire uma foto e
envie por cartão postal... Vou querer saber como é esse novo Sol.
À Willian Lizardo
Niterói, 15 de novembro de 2012
Vós, os felizes,
por que querem enxugar nossas lágrimas? Que tirania tomou conta de suas mentes
para que pensassem que somos apenas melancólicos? Que ditadura é essa que
querem estabelecer? Felicidade a qualquer custo, eis vosso emblema...
Embriagados pela
alegria saem pelas ruas bradando que a felicidade deveria virar rotina.
Invadem-nos as tabernas onde pessoas choram, ao sabor de um whisky, os males
que a vida os trouxe. Cantam músicas de um felicidade eterna no além, aos pés
de um moribundo no leito de um hospital. “Deixai os mortos sepultar os mortos”
é o mantra que entoam nos funerais. Diante da mãe de seu filho natimorto,
tentam consolar sua dor fazendo-a acreditar que ao nascer o próximo filho, as
lágrimas por este não farão mais sentido. Chamam artistas e filósofos de
depressivos por enxergarem beleza na tristeza, quando, para vocês, apenas a
alegria é digna do Belo.
Quantos desvarios
tomaram conta de vocês!
Que seria da alegria se não houvesse a tristeza? Reinando soberana sobre os
sentimentos, a felicidade, eternamente sentada em seu trono, tornar-se-ia aos
poucos parca. Preto e branco seria sua bandeira. As festas, tão rotineiras,
comportariam corpos que já não se sustentam de tanto dançar; os sorrisos, tão
comuns, deixariam de ser a expressão de um coração agraciado por alegria
efêmera; na face de cada pessoa haveria uma máscara de felicidade: o semblante
da própria tirania.
Os corações não
aguentariam o frenesi dos batimentos que acompanham aqueles momentos que
julgamos ser possível morrer de tanta felicidade. Não haveria ouvido que
aguentasse as eternas gargalhadas que ecoariam onde quer que estivéssemos.
Existindo somente a alegria, ela própria perderia o seu sentido.
Somente a
loucura poderia conceber uma vida em que não houvesse o sofrimento. Se vida terrena
assim já seria insuportável, quem dirá uma vida eterna, na presença de pessoas
e de um Deus tão felizes que desejo suicidar-me só de cogitar tal mundo
fictício.
Creia-me, a
tristeza é o grande tempero do mundo. A tristeza é a mãe de toda a felicidade
que possamos almejar. Por causa dela, lançamo-nos na busca por aquilo que nos
faz bem. De tanto chorar, uma hora enxugamos nossos rostos e saímos para a luz
do Sol. A tristeza é a chuva acalentadora num solo rachado por tantas
imprudências que leva-nos a felicidade. Se não fosse pela tristeza, o pintor
não teria posta na tela aquela lágrima brilhante no rosto da moça que chora
sozinha em meio a multidão. Se não fosse a tristeza, nunca teríamos percebido
essa moça, nem nos encontrado nela; se assim não fosse, nem mesmo teríamos a
sensibilidade que tanto admiramos. Se não existissem corações despedaçados, não
haveria o samba que alegra o povo tão oprimido das cidades. Se não houvesse a
tristeza não haveria Homero, Horácio, Ovídio, Dante, Shakespeare, Montaigne,
Jane Austen, Virgínia Woolf, Stendhal, Dostoiévski, Tolstói, Proust, Oscar
Wilde, Fernando Pessoa, Drummond de Andrade, Florbela Espanca, Vinicius de
Moraes, Toquinho, Tom Jobim, Villa-Lobos, Cartola, Adoniram, João Gilberto,
Elis Regina, Renato Russo, Cássia Eller, e tantos outros que me cansaria só de
escrever seus nomes. Se reinasse a felicidade, o que seria da arte? Por Deus,
se não houvesse a tristeza, não haveria poesia...
A tristeza não
precisa ser soberana. Porém, não pode deixar de existir. A tristeza não deixa a
vida sem graça, pois, ela é a própria graça quando nossos corações estão
alegres e conseguimos rir das tragédias passadas. A tristeza é irmã gêmea da
alegria, embora elas não se deem muito bem, andando sempre separadas.
Quando tristes,
não queremos consumir nossos dias, queremos prolonga-los para vermos no espelho
aquele belo sorriso tão fugidio. A tristeza que acompanha a tragédia é mãe das
mais belas filosofias. Quando tristes queremos estar cada vez mais tristes para
que ela, de repente, deixe de existir, deixando-nos a alegria por estarmos
vivos. A tristeza junta novamente os amantes que perdidos estavam em suas
alegrias egoístas: basta que o amado chore, para que nasça no coração do amante
aquele amor novo e imaculado. A tristeza aproxima dois corações marcados pelo
sofrimento.
Chorar nos torna humanos. Pedras, árvores, rios, céus, mar e tudo quando é divino não chora.
Eles são perfeitos, mas não belos quanto os seres humanos e os animais. Nós
coroamos a Natureza por seremos capazes de derramar lágrimas e sorrir quando
elas secam.
Por isso, não
venham me dizer que não posso estar triste. Não me venham com essa loucura: um
coração aos pedaços é pai de tudo quanto é encantador. A tristeza é bela, pois
é belo o ser humano que, sofrendo, encontra a si mesmo.
A alegria
está-nos reservada para quando leves estiverem nossos sentimentos. Seremos
capazes de sermos felizes quando, após muito sofrer, compreendermos o sentido de
nossa vida. Lá, seremos verdadeiramente felizes, mesmo que isso aconteça
segundo antes de morrermos.
Até lá, não
quero ser completamente feliz. Quero estar incompleto, imperfeito, dando espaço
para a luta eterna entre as irmãs gêmeas, fazendo brotar em mim um mundo novo,
explodindo em cores. A perfeição não encanta, pois é imóvel e imutável. Já
a imperfeição, personificada na tristeza, pode mover-nos... E quão belo somos ao
caminharmos.
Matem a verdade
que diz que a felicidade precisa reinar! Favor maior nunca mais farão. Que
reine a Vida: com ela suas filhas: a alegria e a tristeza. E, quando alguém que
não entende nada sobre os seres humanos vier, aconselhando-te a parar de chorar
e a deixar de sofrer, diga-lhe que sobre a Vida ele tem muito a aprender.
Afinal, os antigos, milhares de anos antes de nascer aquele que vos escreve,
tornaram-se sábios ao compreenderem que se é para nos alegrarmos, que nos
alegremos, porém, quando for para estarmos tristes, que choremos com toda nossa alma.
“... O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento.
É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma
casa em festa, pois a morte é o destino de todos; os vivos devem levar isso a
sério!
A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto
triste melhora o coração.
O coração do sábio está na casa onde há luto, mas
o dos tolos, na casa da alegria."
(Eclesiastes 7:1-4)
Niterói, 15 de novembro de 2012
"O que vejo dentro desses olhos? Vamos, abra-os para mim, eu quero ver... Sei que as lágrimas embaçam teu olhar, mas, por favor, abra-os, por mim...
Eles são de um azul profundo. Azul como o coração do oceano. Suas lágrimas fazem-me acreditar que de dentro deles todo esse oceano está prestes a se derramar. Vamos, minha querida, não segure... deixe que venham como ondas. Permita-me, apenas, contemplá-los na tormenta de seus sentimentos.
Eu sei, não precisas me dizer. A dor de todo o mundo encontra-se dentro destes pequenos olhos. Todo o pânico, todo o desespero. É, meu amor, não fomos bons o suficiente, e agora tudo está prestes a acabar. Tentamos... sinto dizer-lhe... não conseguimos. Sim, podes chorar...
Disseram-me, quando pequeno, que faz bem ao coração romper o dique, deixar tudo vir à tona. Contaram-me, e eu eu pude aprender. Triste é não mais termos a quem ensinar o que nossos antepassados com tanta sabedoria nos falaram. Fim da linha, minha querida. Não haverá mais nós... Éramos jovens, imprudentes, desejosos demais em gastar nossos dias. Vivemos, nos consumimos... não nos resta muito mais tempo.
A natureza cansou dos nossos crimes. A mãe Terra chama-nos de bastardos. Prepara-nos um castigo que não tarda. Choras? Console-se com minhas palavras: haveria de ser assim, meu amor. De ouvidos tapados, não pudemos ouvir suas lamentações; de séculos em séculos nossa mãe chorou. Eis que se levanta: em fúria e morte. Podemos chamá-la de tudo quanto é nome: cruel, impiedosa, insensível, assassina; nunca, porém, poderemos chamá-la de injusta ou de impaciente. Com toda naturalidade que é própria, trouxe-nos à vida, fez com que crescêssemos em seus braços. Já adultos, fomos ingratos. Malditos filhos bastardos...
Derrubamos as árvores das florestas que um dia foram nossas casas, extinguimos os animais e os peixes que serviram-nos de alimento, poluímos o ar que com oxigênio tanto nos encheu os pulmões, escavamos fundo demais suas montanhas em busca de metal que nada nos valerá agora. Decidiu, ela, mãe justa, por nosso fim... mesmo com certa tristeza...
Somos incorrigíveis, minha querida. Olhe-me nos olhos. O que vê? Vês um verde de doentia esperança... esperança de dias que nunca chegarão à nós. O verde esperançoso dos meus olhos ficarão sem respostas. Não chores, querida, só irá machucar-me mais. Não é apenas culpa sua...
Olhe ao redor de você! Caos, meu amor. Casas inteiras destruídas, prédios em chamas, lojas saqueadas, jardins à tão pouco floridos, agora, pisoteados. As pessoas correm sem rumo por todos os lados. Para onde vão? Não há para onde ir... Nem mesmo os poucos animais que sobraram foram poupados pelo caos. Eles sofrem: pagam por um crime que nunca cometeram. Resta-nos a destruição.
Enxugue seus olhos. Observe a mãe com o filho nos braços, perceba o pavor: com uma mão segura o filho, e com a outra tapa a boca que de tanto espanto não foi possível fechá-la. Tudo ao redor dela é caótico: vê, mas recusa-se enxergar. Onde está o marido? Talvez tenha saído para buscar ajuda, ou para pegar alguma comida, ou, quem sabe, esteja preso na cadeia, ou tenha se matado de desespero, ou, ainda, morto e soterrado debaixo dos escombros de um desses tantos arranha-céus que tombaram. Quem poderá responder-lhe?
Olhe para o outro lado... O que vê? Carros batidos, pessoas brigando, gritos por socorro, postes de luz despedaçados, uma jovem aos prantos sentada na calçada daquilo que um dia foi a casa de seus pais, crianças de rua desamparadas - como sempre estiveram -, idosos que já esperando a morte estão surpresos por ela chegar assim.
Esperança? Em que? Para quê, meu amor? Ei, ei, não chores mais... Tire suas mãos do rosto e olhes para mim... Um pouco nos resta!
Seus olhos, de tanto chorar, tornaram-se castanhos. Estás de luto! Sinto que ele tomou-lhe o coração inteiro. Escuro seus olhos, negro seu coração. A vida contida em seus olhos esvaiu-se com as lágrimas. Choras-te suas próprias forças. Console-se, porém. Não se deixe enganar com as minhas palavras. Findamos nossos dias por nossa própria ambição. Eu, dentre muitos, fui o mais ambicioso, e, disso, morrerei também eu.
Não há por quê escondermos os rostos marcados pela culpa. De nada nos adiantará. Somos velhos, embora novos por fora. A proximidade do fim envelheceu-nos: o que levaria dezenas de anos para ser ensinado, levou dias para ser aprendido. Nos tornamos sábios de uma hora para outra. Contudo, de que adianta-nos? Amanhã já não estaremos mais aqui. Estamos só: nós e o caos.
Perceba, meu amor, que o que há por detrás do caos é o luto. Morreram todos os nossos heróis: morta está a pátria, a liberdade, a democracia, a honra, a moral, a ciência... morta está, por deus, a verdade. Estamos de luto por tudo que construímos, estamos de luto por nós mesmos. Sobreveio-nos o caos ao percebemos a morte: não sabemos mais o que fazer com aquilo que ainda vivo já foi sentenciado de morte. Fomos lançados num terreno que não conhecemos. Nos perdemos. Nosso caos é o luto por nossa morte antes mesmo de termos sido enterrados.
Lágrimas... quantas lágrimas correm por sua face, minha garotinha. O tempo está esgotado; nossa mãe Terra decretou nosso fim. Porém, não conseguiu matar-nos a sensibilidade. Isso pelo menos não perdemos. Vejamos e capturemos, então, esse último pôr-do-sol. Que seja esse o nosso epitáfio. A Terra não nos quer mais em seus braços. Chegamos ao fim de nossa raça. E, se nos é permitido ainda sonharmos tão próximos do fim, esperemos que os próximos filhos sejam melhores que nós."
Niterói, 26 de outubro de 2012
"O primeiro amor é um doce desespero..." (My week with Marilyn - Film)
Talvez seja necessário o mergulhar profundo no doce desespero que é o primeiro amor...
Não faltam palavras neste caderno que descrevam o intenso desespero que é amar pela primeira vez e ver esse imaculado amor acabar de uma hora para a outra. Dias, semanas, meses, anos, não importa: há de acabar, restando o doce e amargo sabor do sonho que um dia foi real e hoje é apenas saudade.
Ausente está a necessidade de refazer os antigos passos do primeiro amor. Observo silenciosamente à distancia. Na lembrança sempre tão dolorosa que acompanha tudo o que um dia foi, a presença do desespero que ainda não ousava apossar-se, mas que ao largo sempre caminhava. Desespero utópico naqueles dias... verdadeiro no final.
Fundido ao corpo, penetrando pelos poros, correndo dentro das veias, esmagando o coração. É ele, o desespero a tornar-me mais prudente, menos obsessivo, mais desconfiado, certamente mais sincero à nova paixão encontrada na estrada daquilo a que chamamos de Vida.
"Não pedirei que não chores, pois nem todas as lágrimas são um mal...", ouvi certa vez da boca de um sábio que fumava cachimbo nas bordas de um porto: lágrimas de um desesperado, sabedoria de um homem de coração aos pedaços...
No final de tudo pode ser que nada faça sentido, e creio que realmente não fará. Por ora, acalma as dores de um coração maltrapilho. Que infâmia há em dar alento ao viajante que de tanto vagar possui os pés cansados, os ombros encurvados, a face desacreditada? Deixe que descanse enquanto houve de durar o seu repouso... A quimera de ter finalmente chegado ao lar pode trazer-lhe alguma paz, mesmo que efêmera. À sua verdadeira casa, em breve verá, ainda não chegas-te: precisará muito caminhar antes de se aperceber que durante todo esse tempo carregou consigo o que sempre procurou. Até lá, deixa-lhe que o desespero sirva-o como guia, e não recuse-lhe abrigo quando houver de bater em sua porta...
Niterói,
26 de setembro de 2012
Contaram-me certa vez
que um rei havia muito queria casar. Barbazul, o rei, morava em seu castelo de
muitos cômodos e de muitas torres. Por ser rei, não lhe faltava pretendentes.
Todas desejavam ser rainha, porém, uma só conseguiria o posto. Era preciso,
então, escolher a que dentre elas seria sua esposa.
Uma das torres foi
projetava exatamente para esse propósito. Oito ou sete patamares foram
construídos. Em cada um o rei apresentava às pretendentes o seu mundo
particular. Patamar da família, patamar dos amigos, patamar das festas, patamar
das obrigações reais, patamar de tudo o que era tipo. Tudo quanto fazia parte
da vida de Barbazul estava contido por detrás daquelas portas. E lá adentravam
as pretendentes. Eis, então, que chegavam ao último patamar. O soberano entregava-lhes
a chave e se retirava.
Era um quarto escuro.
Havia apenas dois bancos. Um para a pretendente. O noutro vinha sentar-se um
violoncelista. Se não me falha memória, o músico sentava e passava a tocar uma
obra de Bach para violoncelo. Ao final da música, ele se levantava e ia embora.
A pretendente saia e encontrava-se com o rei que lhe perguntava o que a moça
havia sentido. Elas respondiam quão bela era a música, ou quão perfeita foi a
interpretação. Não comovido, Barbazul as dispensava, e, continuava em sua busca
por uma esposa.
Houve, certa vez, uma
moça que se candidatou ao posto de rainha. Ela, também se não me engano, era de
família humilde. Percorreu todos os patamares. Chegou, por fim, ao último.
Sentou-se no devido lugar. O violoncelista pôs-se a tocar. Enquanto ouvia os
caminhos que a música percorria, a moça sentiu uma profunda solidão. Aquela
solidão a comoveu e seus olhos não tardaram a derramar lágrimas. O que passava
pela sua mente e seu coração eu desconheço, mas seu choro foi intenso e
sincero. Ficou lá... chorando por algo que lhe tocou a alma. A música terminou,
o músico foi embora. Ela permaneceu em silêncio, sentada durante um tempo. Ao
sair, encontrou Barbazul. Este perguntou-lhe o que havia se passado lá dentro.
Ela só soube relatar a intensidade de suas lágrimas.
Comovido, o rei
entregou-lhe a chave do patamar e pediu-a em casamento. Explicou-lhe que aquele
quarto era o profundo de sua alma. Lá estava sua solidão. A pessoa que se sentisse
próxima a essa solidão seria a pessoa que estaria próxima dele. Nessa hora,
Barbazul entregou o coração à moça, dizendo-lhe: “Amo-a por ter amado minha
solidão... Nossas solidões são companheiras”.
Barbazul, a moça, a
solidão. Para mim, esse é o verdadeiro amor: a companhia mútua de duas almas
solitárias. Amigos, família, festas, obrigações... tudo faz parte da vida. Mas
é ela, a solidão, aquilo que, quando compartilhada, torna duas pessoas um único
ser. Dois corações distintos, uma única solidão.
Quem sabe o que é
compartilhar a solidão de uma alma, sabe o que é compartilhar o amor. Amar
talvez seja essa busca e o encontrar de um coração que se comoveu com aquilo
que a primeiro momento não passava de um violoncelo, de um músico, de uma
música. Amar talvez seja tocar o fundo de uma alma que se contorce na solidão
da vida. Amar talvez não seja nada mais do que o comover. Mover junto, dançar no
mesmo ritmo. Chorar com a canção.
Talvez por isso se ame
tão pouco, ou talvez seja por isso que não se ame nunca. Barbazul e a moça são
apenas uma estória. No mundo da vida que acontece debaixo dos nossos pés talvez
isso seja impossível. Cada um aparece e logo se vai. A música foi bela, o
músico era excelente, o violoncelo de uma afinação exemplar. Tudo era
agradável. Mas... comoção? Não para tanto. Chorar no escuro? Infantilidade.
Solidão? Só para quem é depressivo. “Pode ir... você não compreendeu o que era
meu último patamar!”
Assim os dias se
passam. Pessoas vêm, pessoas vão. Eternamente o violoncelista continua a tocar
a canção. São muitos rostos, muitas faces atentas à execução da música. A
cadeira, entretanto, continua vazia. Não há quem se sente e fique a contemplar
a escuridão, a comover-se com a canção, a chorar no escuro.
Barbazul poderia ter
chegado a pensar que tudo não se passa de ilusão. Que sua solidão era por
demais profunda para que uma moça um dia a compreendesse. Ou, talvez, que ele
mesmo era um miserável, um romântico em anacrônica decadência. Talvez ele
realmente seja tudo isso que chegou a pensar. E eu creio que ele realmente
seja. Mas... ei-lo a tocar a canção...
Na estória, o rei
encontrou quem o compreendesse. Eu cá seria muito feliz se alma sensível por tal
poesia fosse tocada.
Não me esqueço, porém,
que ainda sou jovem e o verde de minha curta vida ainda não embotou. A
primavera ainda está em flor... Que me dirá os invernos de meu futuro?
Niterói, 19 de setembro de 2012
Restava-nos 20
minutos...
Disse-lhe que acenderia
um cigarro e sairia para a varanda observar o espetáculo antes de morrer. Não
poderia me esconder simplesmente. Se estava prestes a acontecer, não perderia
por nada.
Desligamos os
celulares. As últimas palavras de meu amigo foram: “Ah, liguei só para me
despedir, caso algo aconteça”. As minhas foram: “Se acontecer, amigo, saiba que
o amo”. Era recíproco o sentimento.
Não julguem por simples
o acontecimento. Era um evento cósmico. Uma mistura de asteroide com colisão da
lua com a Terra. Não tente entender, pois não é científico, nem tampouco
lógico. Mas era urgente, era imperioso, era falso. Só o que existia era a
imaginação. E, por fazer parte de mim, durante alguns minutos o mundo realmente
acabou.
Lembrei-me de
Montaigne. A morte naqueles instantes já não era algo terrível. Porém, não era
também desejável. Era apenas algo a se esperar tranquilamente, sem medo, ao som
de uma música que toca a alma, ao sabor da fumaça de um cigarro. A natureza
quis assim: quis que a máscara mortuária fosse mais bela do que as quimeras de
nossa imaginação decadente. A natureza se encarregou de meu medo. Já não havia
nada a ser feito, a não ser esperar, apreciando os choques cósmicos.
Devo dizer que havia em
meus olhos uma lágrima nascente. Estava prestes a chorar. Uma lágrima de
nostalgia... Estava me despedindo. De tudo que me ocorreu, que me trouxe riso
ou lágrimas, tudo haveria simplesmente deixar de existir. Eu deixaria de
existir. Era a hora.
Coisas importantes subitamente
tomam conta de nós quando vemos na distância Caronte em seu barco. Desesperados
damos valor ao que antes era trivial. O mundo de pernas pro ar. Não por muito
tempo. A barca se aproxima. E é bom que ela venha. É bela. Quem foi que
inventou a estapafúrdia de que é feio o rosto de Thanatos?
Meu amigo escreveu:
“Adeus dia em que achei que não acordaria, que deprimente fostes, e quão feliz
serias...” Amigo, estávamos realmente felizes. Finalmente vivíamos, mesmo que
em melancolia. Não diria, querido amigo, que deprimente foi aqueles minutos...
antes, nostálgicos. Sentíamos já saudades daquilo que em breve perderíamos. Aí,
então, a beleza que dizes: ao perder a vida, a encontramos. Triste é vivermos
e, por isso, permanecermos mortos...
À Willian Lizardo, companhia por demais elevada, amizade por demais sincera...
Cachoeiro de Itapemirim, 24 de julho de 2012
Ora, assim vou te perdendo!
Foram-se 3 anos. Três intensos anos! De felicidades e de tristezas; de sorrisos e lágrimas; de paz e de guerra. Alguns términos... o último definitivo. Há meses nos separamos. Muitas coisas aconteceram. Não faltaram lágrimas para me lamentar, mas finalmente eu estou indo e sua imagem se distanciando...
Icei as velas e agora o barco está partindo. Na verdade, ventos contrários o impediram de avançar durante um tempo, mas agora o vento é favorável e o mar está calmo. Ele começa a ganhar velocidade. O porto se distancia pouco a pouco, e seu rosto já não consigo distinguir com tanta clareza.
Se está acenando ou não, derramando lágrimas ou rindo, se está silencioso ou eufórico, eu não sei dizer. Porém, agora não importa mais! Só estou aproveitando o bom tempo. E, quando a oportunidade aparece não é sensato perdê-la.
Finalmente, adeus! Não me importa a frieza, nem o que se passa em sua cidade. Seus habitantes não são mais meu povo, nem gosto mais tanto assim de sua comida. Seus problemas agora são só de seus administradores. Não me peça para voltar, porque já estou muito longe e seu porto congestionado por outros barcos. Não mais voltarei...
Quando, por algum motivo, na distância dos mares revoltos e dos portos misteriosos, eu sentir saudades lhe enviarei amor e luz, mas o caminho vou continuar. O mar permanecerá a frente, esperando ser desbravado. Eu sou apenas um barquinho, mas com velas mais resistentes e casco mais envelhecido.
Sim, eu continuo. Porém, agora sem você... Ficas-te em meus diários, que muito servirão para alegrar os dias de minha maturidade, e, quem sabe, para trazer o calor da saudade dos dias felizes quando eu sentir o frio das geleiras dos lugares longínquos. Somente na história você fica. Que não se entristeça ou se revolte comigo... A história está dentro do meu coração...
Queria apenas dizer adeus, mas sabes o quão floreado sou. Se é assim, adeus, querido porto! Fostes o mais belo até então...
Niteroi, 09 de abril de 2012
Como dito na postagem anterior, a presente postagem faz referência ao diálogo do preceptor libertino Dolmancé com sua aluna, a jovem Eugénie.
EUGÉNIE, à senhora de Saint-Ange - O quê?! Será verdade, doce amiga, que a existência de Deus é uma quimera?
SAINTE-ANGE- E das mais desprezíveis, sem dúvida.
DOLMANCÉ -Só perdendo os sentidos para acreditar nisso. Este abominável fantasma, Eugénie, fruto do terror de uns e da fraqueza de outros, é inútil ao sistema da Terra. Ele o prejudicaria infalivelmente, visto que suas vontades, que deveriam ser justas, jamais poderiam aliar-se às injustiças essenciais às leis da natureza; desejá-lo em compensação do mal que serve às suas leis; visto que deveria agir sempre, e a natureza, cuja ação perpétua é uma de suas leis, só poderia encontrar-se em concorrência e em oposição perpétua a ele. Mas, dir-se-á a este propósito, Deus e a natureza são a mesma coisa. Não é um absurdo? A coisa criada ser igual ao criador? Pode um relógio ser igual ao relojoeiro? A natureza não é nada, prossegue-se, é Deus que é tudo. Outra bobagem! Há necessariamente duas coisas no universo: o agente criador e o indivíduo criado. Ora, qual é este agente criador? Eis a única dificuldade que é preciso resolver, a única pergunta que é preciso responder. Se a matéria age, move-se por combinações que nos são desconhecidas, se o movimento é inerente à matéria, se apenas ela pode, enfim, devido à sua energia, criar, produzir, conservar, manter, equilibrar nas imensas planícies do espaço todos os globos cuja vista nos surpreende e cuja marcha uniforme, invariável, enche-nos de respeito e admiração, qual então a necessidade de buscar um agente estranho a tudo isso, já que esta faculdade ativa se encontra essencialmente na própria natureza, que não é outra coisa senão a matéria em ação? Vossa quimera deífica esclarece alguma coisa? Desafio a quem possa prová-lo. Supondo que eu me enganasse sobre estas faculdades internas da matéria, só teria diante de mim uma dificuldade. O que fazeis oferecendo-me o vosso Deus? Vós me criais uma dificuldade a mais. E como quereis que eu admita, por causa daquilo que não compreendo, algo que compreendo menos ainda? Será mediante os dogmas da religião cristã que irei examinar... que irei me representar o vosso Deus terrível? Vejamos um pouco como ela mo descreve... O que vejo no Deus desse culto infame senão um ser inconseqüente e bárbaro que cria um mundo hoje de cuja construção se arrepende amanhã? O que vejo nele senão um ser frágil que jamais consegue dobrar o homem à sua vontade? Tal criatura, embora emanada dele, domina-o; ela pode ofendê-lo e merecer por isso eternos suplícios! Que Deus mais fraco esse! Como? Pôde criar tudo o que vemos e lhe ser impossível formar o homem a seu modo? Mas, argumentareis, se ele o tivesse criado assim, o homem não teria tido mérito. Que baixeza! E qual a necessidade dele merecer algo de seu Deus? Se o tivesse criado totalmente bom, ele jamais teria praticado o mal, e só então a obra seria digna de um Deus. É tentar o homem lhe deixando escolha. Ora, em sua presciência infinita, Deusa sabia qual seria o resultado disso. Logo, a partir desse momento, é com prazer que perde a criatura que ele mesmo formou. Que Deus horrível esse! Que monstro! Que celerado mais digno de nosso ódio e de nossa implacável vingança! Entretanto, pouco satisfeito com uma tarefa tão sublime, ele afoga o homem para convertê-lo, queima-o, amaldiçoa-o. Nada disso modifica-o. Um ser mais poderoso que esse Deus vilão, o Diabo, conservando sempre seu império, podendo sempre afrontar seu autor, acaba sempre pervertendo, com suas seduções, o rebanho que o Eterno reservara para si próprio. Nada pode vencer a energia desse demônio sobre nós. O que então, segundo vós, concebe o Deus horrível que pregais? Ele só tem um filho; um filho obtido não sei de que comércio; pois, se o homem fode, quis ele que seu Deus também fodesse. Destaca do céu esta considerável porção de si mesmo. Imagina-se que, talvez, sobre raios celestes, em meio ao cortejo dos anjos e à vista de todo o universo esta criatura sublime vai aparecer... Nada disso: é do seio de uma puta judia e no meio de um chiqueiro que anuncia o Deus que vai salvar a terra! Eis a origem digna que se lhe atribuem! Mas sua honrosa missão nos indenizará? Acompanhemos a personagem por um momento. O que diz, o que faz? Que missão sublime recebemos dele? Que mistério vai revelar? Que dogma nos prescrever? Enfim, em que atos sua grandeza vai eclodir?
Vejo, em primeiro lugar, uma infância desconhecida, alguns serviços, sem dúvida bem libertinos, que o fedelho presta aos padres no templo de Jerusalém. Em seguida, desaparece por dez anos, período em que o safado se envenena com todas as fantasias da escola egípcia que leva para a Judéia. Mal ele reaparece, eclode sua demência para fazê-lo dizer que é filho de Deus, igual a seu pai. A esta aliança associa outro fantasma a que chama de Espírito Santo, a essas três pessoas , assegura, devem formar apenas uma! Quanto mais este mistério ridículo espanta a razão, mais o patife assegura haver mérito em adotá-lo... e perigo em aniquilá-lo. Foi para nos salvar a todos, garante o imbecil, que ele se encarnou, embora sendo deus, no seio de um filho dos homens. E os estrondosos milagres que o vêem realizar convenceram logo o universo inteiro! Com efeito, numa ceia de bêbados, segundo dizem, o vigarista transforma água em vinho; num deserto, alimenta alguns celerados com provisões escondidas que seus sectários preparam; um de seus camaradas finge-se de morto e nosso impostor ressuscita-o; ele vai para uma montanha, e, diante de apenas dois ou três amigos, faz uns passes de mágica que fariam corar o pior saltimbanco de nossos dias.
Aliás, amaldiçoando com entusiasmo todos os que não acreditam nele, o tratante promete o céu aos imbecis que o escutarem. Ele nada escreve, devido à sua ignorância; fala muito pouco, devido à sua estupidez; faz menos ainda, devido à sua fraqueza. Deixando por fim os magistrados impacientes com seus discursos rebeldes, embora raríssimos, o charlatão se faz crucificar, após assegurar ao seu séquito de vadios que, a cada vez que o invocarem, descerá entre eles para distribuir comida. Supliciam-no, ele não reage. O senhor, seu papai, o Deus sublime de quem ousa dizer descendente, não lhe presta menor auxílio, e o patife acaba sendo tratado como último dos celerados, dos quais era tão digno de ser o chefe.
Seus satélites reúnem-se: “Estaremos perdidos, dizem, e todas as nossas esperanças dissipadas, se não encontrarmos um modo brilhante de nos salvar. Embriaguemos a guarda que cerca Jesus; roubemos seu corpo e divulguemos que ele ressuscitou. É u meio seguro. Se com essa tramóia conseguirmos convencer, nossa nova religião encontrará apoio e propagar-se-á. Ela seduzirá o mundo inteiro... Mãos à obra!” O golpe é dado e triunfa. A quantos vigaristas a astúcia não teve o lugar de mérito?! O corpo é retirado; os tolos, as mulheres, as crianças gritam o mais que podem que foi um milagre! Entretanto, nesta cidade tinta do sangue de um Deus, ninguém acredita nesse Deus, e nenhuma conversão aí se realiza. E há mais: o fato é tão pouco digno de ser transmitido, que nenhum historiador o menciona. Somente os discípulos do impostor pensam tirar partido da fraude, mas não imediatamente.
(...)
Não duvidemos: este culto indigno teria sido irremediavelmente destruído se desde o seu nascimento tivessem empregado contra ele tão-somente as armas do desprezo que merecia. Mas acabaram perseguindo-o, ele cresceu; o meio era inevitável. E se ainda hoje se tentasse cobri-lo de ridículo, cairia. O hábil Voltaire jamais empregou outras armas. De todos escritores, é o que pode se gabar de ter feito mais prosélitos. Numa palavra, Eugénie, eis a história de Deus e da religião. Vede o caso que estas fábulas merecem e determinai-vos sobre o seu custo.
Marcadores: ateu, Deus, filosofia, Marquês de Sade
Niteroi, 09 de abril de 2012
Esta e a próxima postagem referem-se a um diálogo contido no livro Filosofia na Alcova, do famoso Marquês de Sade. A beleza do texto reside na forma como a realidade é por Sabe esboçada. Com sarcasmo e deboche, nosso Marquês traduz todo o sentimento de algum que observou o Cristianismo sem as lentes da fé, que, nela mesma, é cega. Revolta para os Cristão; alegria para os Ateus.
"DOLMANCÉ - O que significa esta virtude [a piedade] para quem não crê na religião? E quem pode crer na religião? Vejamos: ordenemos o raciocínio, Eugénie. Não chamais religião ao pacto que liga o homem a seu Criador, e que o engaja a lhe dar testemunho, por um culto, de seu reconhecimento pela existência recebida deste autor sublime?
EUGÉNIE- Não há melhor definição.
DOLMANCÉ- Pois bem. Se está demonstrado que o homem só deve sua existência ao planos irresistíveis da natureza; se está provado que tão antigo neste globo quanto o próprio globo, ele não passa, como o carvalho, o leão e os minerais que se encontram nas entranhas desses globo, de apenas uma produção exigida pela existência do globo e não deve a sua a quem quer que seja; se está demonstrado que este Deus, que os tolos vêem como um único autor e fabricante de tudo o que vemos, não passa do nec plus ultra da razão humana, do fantasma criado no instante em que esta razão não vê mais nada a fim de ajudar em suas operações; se está provado que a existência deste Deus é impossível e que a natureza, sempre em ação, sempre em movimento, tem por si só o que agrada aos tolos lhe dar gratuitamente; se é certo supor que este ser inerte existiu, ele certamente seria o mais ridículo dos seres, visto só ter servido um único dia, e que após milhões de séculos, encontrar-se-ia numa inação desprezível; supondo que existisse, como as religiões no-lo pintam, ele seguramente seria o mais detestável dos seres, já que permitiu o mal sobre a terra, enquanto sua onipotência poderia impedi-lo; se tudo isso estivesse provado, como incontestavelmente está, crede então, Eugénie, que a piedade que liga o homem a esse Criador imbecil, insuficiente, feroz, desprezível, seria uma virtude absolutamente necessária?"
Marcadores: ateu, Deus, filosofia, Marquês de Sade, religião
Niterói, 03 de março de 2012
O que você faria se lhe restassem apenas 5 dias de vida?
Isso é o que reverbera dentro dos meus ouvidos já no início da segunda parte do filme Melancolia do Lars Von Trier.
No caso do longa-metragem é o planeta Melancolia que põe os relógios em contagem regressiva. Já na vida fora das telas é a própria Vida que põe nossos relógios em contagem decrescente. Na verdade, nascemos com o relógio marcando nosso fim. Acontece que somos bons em esquecer. Melhores ainda em fingir. Fingimos que o relógio começa a contar no zero e vai crescendo gradualmente. Nos esquecemos que, pelo contrário, quando ele finalmente chegar ao zero, aí não haverá mais esperanças.
Comemoramos aniversários: anos à mais de vida, quando o mais sensato seria comemorarmos anos à menos de vida. Se fossemos lúdicos o suficiente, em todas nossas festas arrastaríamos um cadáver entre os convivas, para que a recomendação dos antigos egípcios não nos escapasse: “Bebe e alegra-te, pois morto serás como este”.
Viver é estar morrendo. “A primeira hora que nos deu a vida tomou-a de nós”, como diria Sêneca. Ou, “Todos os dias levam à morte: o último a alcança”, nas palavras de Montaigne. Não há como evitar, e o não pensar nela não mudará a realidade de sua inevitabilidade.
O que você faria se lhe restassem apenas 5 dias de vida? Onde gostaria de estar? O que gostaria de estar fazendo? Ou lendo? O que gostaria de estar sentindo? Ao lado de quem estaria? O que estaria pensando? Se lhe restassem 5 dias...
5
4
3
2
Se fosse possível saber o dia da véspera de nossa morte, como no Melancolia, como seria? Como seria esse penúltimo suspiro? Quais seriam as cores do Mundo? Branco, preto, coloridas? Como? É a véspera do Ocaso. Nos 3 dias anteriores conseguiu por em prática seus últimos planos? Por acaso planejou seu funeral? Escolheu as flores e os hinos?
É Véspera... Não resta muito mais tempo. Essa será sua última noite. A última luz do luar. Os últimos brilhos das estrelas. O último cantar das cigarras. O último banho noturno. O último sexo de madrugada. O último sonho antes do eterno sono.
O que você sonharia na Véspera? Sonharia com a vida que passou? Ou, por acaso, com a vida que deveria ter passado? Sonhará com os próximos campos do Paraíso? Ou, com a eterna noite? Se os deuses forem bons, talvez não sonhemos... Suas botas estão calçadas?
1
Não há como escapar! O Melancolia colidirá com a Terra e não há sequer lugar para correr. Não há como fugir. Ir para onde? Diferente de filmes como Impacto Profundo e Armageddon, no Melancolia não há esperanças. Só há desespero e resignação: ora uma irmã, ora outra. É inevitável. Não há para onde ir. É coisa certa.
No filme os personagens usam telescópios e cálculos matemáticos na observação do Melancolia. Vigiam-no a cada segundo. Não perdem um único movimento de sua trajetória. Nós, cá, devíamos fazer isso com nosso Melancolia particular. “Tiremos-lhe a estranheza, frequentemo-la, acostumemo-nos com ela, não tenhamos nada de tão presente na cabeça como a morte: a todo instante a representemos em nossa imaginação e em todos os aspectos”, tal é a recomendação de Montaigne.
Nesse último dia estarei preparado? Quando ver os últimos passarinhos voando no céu, quando ouvir pela última vez aquela sinfonia de Beethoven, quando tomar o último banho de praia, ler as últimas linhas daquele último livro, quando der o último abraço, o último beijo, quem serei eu? Quem é este que de tudo e de todos se despede?
Não há mais tempo para perguntas. Restam-me apenas alguns minutos. Os anos giraram sobre si, repassando sobre seus próprios rastros. “O presente já passou e nunca mais poderemos chamá-lo de volta”. É nosso último espetáculo. Sentemos num campo de grama verde sob os pés. Tomemos um bom vinho, numa bela taça. Coloquemos as Quatro Estações de Vivaldi, ou, Into the West da Annie Lennox. E fiquemos a admirar. Melancolia vem em nossa direção.
Tudo em volta sente a aproximação. A energia acaba. Os animas fogem: tolos, acaso não sabem que não há para onde fugir? A atmosfera é invadida pelo planeta e o ar começa a nos faltar. Uma luz. Uma forte luz. Vivaldi continua tocando. Será que ele passou por isso? Então, é esse o momento. Permita-se uma última olhada ao redor. Tudo em slow-motion. Não mais que alguns instantes. Já é possível sentir o calor do Melancolia. Cada vez maior. Cada vez mais azul. Cada vez mais lindo. (Pode a morte ser tão bela?) Cada vez mais próximo. Cada v...
(Triste na Morte não é morrer, mas sim nunca mais poder ver tudo que um dia vimos. Nunca mais sentir aquilo que um dia veio ao coração. Nunca mais abraçar aquela pessoa tão especial. Nunca mais sentir aqueles lábios. Nunca mais sentir aquele cheiro. Nunca mais ler aquele livro. Nunca mais saborear aquela comida. Nunca mais ver aquelas paisagens... O que dói na Morte não é estar morto. O que dói é não mais estar vivo...)
Omnes eodem cogimur, omnium
Versatur urna, serius ocius
Sors exitura, et nos in aeter-
Num exitium impositura cymbae.
[Todos nós somos empurrados para um mesmo ponto, a urna de todos nós é agitada, cedo ou tarde dali sairá a sorte que nos fará subir na barca para nosso fim eterno.] (Horácio, Odes, II, 3, 25)
“É incerto onde a morte nos espera, aguardemo-la em toda parte. Meditar previamente sobre a morte é meditar previamente sobre a liberdade. Quem aprendeu a morrer desaprendeu a se subjugar. Não há nenhum mal na vida para aquele que bem compreendeu que a privação da vida não é um mal. Saber morrer liberta-nos de toda sujeição e imposição. (...) Por mim mesmo, não sou melancólico mas sonhador: não há nada de que me haja ocupado desde sempre como dos pensamentos sobre a morte, e até a época mais licenciosa de minha vida, juncundum cum aetas florida ver ageret [quando minha idade em flor vivia sua doce primavera].” (Montaigne, Ensaios, Capitulo XIX: Que filosofar é aprender a morrer)
Niteroi, 28 de fevereiro de 2012
Surgiu quando menos esperávamos...
Pode parecer clichê, mas penso que foi amor à primeira vista. Se não, amor à primeira conversa. O local também não poderia ser mais clichê: retiro espiritual de igreja. Digo clichê, pois, onde um filho de pastor haveria de se apaixonar por um filho de diácono? Enganam-se os que pensam que retiro serve para “retirar-se do carnaval”: retiro religioso é retirar-se para um carnaval privado. E, nesse carnaval particular, imerso numa áurea de santidade, surgiu um dos amores mais profanos, execrados, aplaudidos, idealizados, desiludidos, e renascido Amor.
Acontece que esse Amor, que até então não sabíamos que era Amor, só pode florescer em 2009. Tal como as frágeis flores que crescem entre as rochas, entre muros, nosso Amor cresceu entre as rochas da família, da sociedade, de nós mesmos. Como somos um casal gay quase clichê, não havia outra saída para essa flor que crescia tão sufocada no solo do Espirito Santo se não plantá-la em outros solos. Decidimos plantá-la no Rio de Janeiro. O sol da tolerância, o adubo de amizades despreocupadas com a orientação sexual e a água descontaminada da religião e do sexismo fizeram com que a planta crescesse e desabrochasse. A cada dia tornava-se mais bela.
Assim chegamos a 2010. Ano do aprofundamento das raízes. O Amor crescia a cada nova estação. No Verão o calor nos consumia, mas sempre arranjávamos algum lago de águas frias para nos banharmos. No Outono nossas folhas caíram. “O inverno está chegando” e era preciso que nossas forças fossem concentradas naquilo que havia de mais essencial. O Inverno chegou, e com ele todo mal tempo. Não havia mais nenhuma folha em nossos galhos. Porém, não julgue estar morta uma árvore só porque lhe faltam as folhas. Dias passaram. Por fim, chegou a Primavera. Com ela veio as cores, o canto dos pássaros, o aroma das flores e a alegria. Quando a primavera chega, quem se lembra do Inverno? Assim foi 2010.
Até que... chegou 2011! Como haveríamos de saber que nesse ano nosso Amor seria sacudido por tantos ventos? Que folhas, caule e raízes seriam abalados? Como filho da Tormenta nosso Amor só trovejou, soprou, inundou, destruiu, aniquilou. Fomos consumidos por nós mesmos. O Amor tornou-se seu próprio inimigo. Antes, que não houvéssemos nos amado! Maldito seja o dia que nos vimos pela primeira vez. Amar? Sofriemento. Amor? Ilusão! O Amor pôs-se em xeque. Quem é você? Por que veio até nós? Por quem nos apaixonamos? Melhor fosse que naquele 28 de fevereiro de 2009 nós tivéssemos nos desencontrado. Dois monstros igualmente insuportáveis. Leão e Escorpião. Não fomos avisados pelos astros que não é possível a harmonia entre signos totalmente opostos? Um, pai do egoísmo; outro, pai da vingança. Quebramos os espelhos, restou-nos a desilusão. Tiramos as máscaras, nos traímos. Um ano onde o anjo foi amordaçado e espancado pelo demônio. Decretaram para nós o término do conto de fadas e nos arremessaram no caótico mundo real. Como haveríamos de suportar? Não suportamos. Primeiro término: Eu. Segundo término: Ele. Neste mundo há lugar para o mocinho e para o bandido: ora eu, ora ele, ora ambos. Vencemos a todos. Na guerra contra milhares fomos vencedores. Na guerra de apenas dois, perdemos. Nadamos, nadamos, nadamos e morremos em nós mesmos. Abrimos feridas em nossos corações. Tentamos cicatrizar, mas por vezes a putrefação já estava avançada. Jorrava sangue e pus. Jorrava nós mesmos.
Que eu não seja ingrato. Durante 2011 não estivemos exclusivamente no Coliseu, nos degladiando. Houveram reconciliações, choro sincero, beijos apaixonados, sexo quente. Como todo coisa é seu oposto em si mesmo, o Amor também venceu. Perdões foram concedidos. O sorriso voltou para o rosto. As alianças foram polidas e voltaram para suas casas. Amor: filho da Tormenta e da Calmaria. Amor... todas as coisas, todos os momentos.
Finalmente, 2012. O último ano de uma Era, assim nos diz o calendário Maia – ou assim dizem que ele diz. A mistura de Copacabana e Reveillon só podia resultar em juras de amor eterno. Pena que não durou muito. Quinze dias e um término com proporções semelhantes à 2011. Sem chance de volta. O fruto apodreceu e caiu da árvore. Caído ao chão, dado às larvas. Porém, nas histórias extraordinárias algo sempre nos escapa. Dessa vez, uma semente. Assim como é do Amor não ser compreendido, é do Amor as surpresas. Bastou um grão, num solo castigado. Pode ter sido um pássaro, ou uma chuva a espalhar as sementes, como saberei? Mas já bastou. Uma semente: uma conversa. Uma gota de chuva: uma lágrima. Ela brotou nos olhos, rolou pelo nariz e rosto, tentou se agarrar ao queixo, driblou a mão no ar e caiu no solo. Bem no coração, em cima da semente. Como no conto “João e o pé de feijão”, não foi necessário muito tempo até que a árvore crescesse, crescesse e crescesse. Cresceu rápido porque nunca havia deixado de existir.
E cá estamos. Algum tipo de loucura ou obsessão nos une. Um pouco de cada, ou ambos ao mesmo tempo. Quem sabe esses não sejam os verdadeiros nomes do amor? Quem pode dizer? Não eu! Na verdade, quem pode dizer algo do Amor sem antes começar a frase com o “para mim”?! Quem conseguiu separar o Amor da paixão, se é que são coisas diferentes? Quem é capaz de dizer que há Amor e/ou não há Amor?
Até quando dessa vez? Os otimistas dizem: para o resto da vida. Os pessimistas: alguns poucos meses. Como ambos habitam a mesma mente, não há como decidir. Ora somos um, ora somos outro, ora os dois ao mesmo tempo. Não importam as previsões, elas estão além de qualquer observação. Talvez diga-nos algo o único Deus que existe: dizem que ele passa para a gente, mas, penso como Boaz Sommo (Guideon): “Talvez seja o contrário: nós passamos dentro do tempo. Por acaso eu sei? Ou o tempo é que passa as pessoas.”
Passaremos todos por ele. Esse Amor um dia passará. Todas as coisas um dia morrerão, tal são os desígnios desse Deus. No final, ficará apenas Ele, e sua implacável ira. Mas, diante dele estamos tranquilos. Não pecamos por não tentar. O orgulho não nos seduziu. A distância tampouco aplacou o sentimento. O conhecimento de outros mundos não foi capaz de pôr em esquecimento o mundo que surgiu naquele 28/02/2009. Do mal da resignação não morreremos. Fizemos e continuamos a fazer tudo que esse Deus põe em nossas mãos.
Dois filhos da Tormenta. Dois filhos do Amor. Dois universos que ao se encontrarem produzem buracos negros e supernovas. Se há algo que aprendi nesses 3 anos foi que eternamente seremos esses dois seres estranhos um ao outro. Essas duas vidas completamente opostas. Dois rapazes infinitamente complexos. Mas ainda assim desejosos pelos mistérios um do outro. Por esse tesouro escondido que talvez nunca achemos. Não há racionalidade nesse relacionamento. Não estamos juntos por uma questão de mérito. É puramente sentir.
Seguimos sendo eternamente a fusão de fogo e gelo. E, se o gelo pode queimar, somos tudo ao mesmo tempo. Somos um só!
Feliz 3 anos, meu amor...
Niterói, 26 de janeiro de 2012
Se existe algo que pode fazer com que um indivíduo transite entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, sem que tenha terminado de fato os seus dias, não poderia ser outra coisa se não o Amor.
Irmão gêmeo da Vida, irmão gêmeo da Morte, o Amor não é nada além dos dois. Ambos. Ao mesmo tempo. Se pode o Amor dar vida ao mais desbotado dos seres, é também ele quem rouba todas as cores; ele, quem cria zumbis. Pessoas que estão vivas somente pela grande força que é o organismo, mas que em seus corações e em suas mentes nada mais há que torpor. Indiferença. Ausência até da própria dor.
Se o Amor é libertário, a carta de alforria, ele também sabe ser o carrasco mais cruel, o cadafalso onde morrem todas as esperanças, as alegrias passadas, as incertezas futuras.
Se o Amor é o sumo bem, é também seu irmão gêmeo: o sumo mal. Um mesmo ser: duas naturezas, opostas e necessárias uma a outra. Se Amor é Deus, é igualmente o Diabo.
Se enganam os que pensam que foram as guerras, as doenças, os verdadeiros responsáveis por todas as mortes do passado e do presente. Se enganam, pois a nenhum outro ser, sentimento, ou sei lá isso que é o Amor, foi reservado o trabalho de retirar os homens da terra... Quando não fisicamente, pelos menos existencialmente. Se as pessoas não matam ou se matam pelo Amor – por covardia ou falta de convicção –, elas ainda assim deixam de existir; deixam de sentir.
É o Amor o bem mais precioso que o homem foi capaz de encontrar. É ele, essa gema preciosa, a sua perdição. Ao alcançar o céu, o homem encontrou o Inferno.
Do Amor nascem todas as coisas, e, nele, todas as coisas murcham, se apagam, desbotam, definham, desaparecem.
Quisera que o Homem nunca tivesse encontrado-o. Que toda sua existência se desse na ciência e na razão. Mas, por um dia ter mordido o fruto do conhecimento, toda sua mediocridade foi-lhe roubada. Em Queda, o Homem tornou-se naquilo que há de mais belo e sombrio na Natureza: ele tornou-se nele mesmo. Esse símbolo, esse fruto do conhecimento que é o Amor aprisionou o homem naquilo que chamamos de “vida mortal”. O Amor trouxe-o à Vida, e, junto com ela, à Morte. Os dois seres indissociáveis. O fruto do conhecimento expulsou o homem do paraíso, da filosofia, restando-lhe, agora, apenas o flerte interminável com o mundo perfeito. Em versos e em prose tenta ele recuperar o paraíso que perdeu.
É, pois, o Amor tudo o que o homem um dia almejou, mas que ao encontrá-lo, amaldiçoou-se.
Marcadores: amor, desabafo, existência, morte
Guarapari, 22 de janeiro de 2011
O conto que transcrevo aqui é da autoria de uma mulher que não conheço. Entrei em contato com ele através de minha amiga Maria Erineide. Segundo ela, este conto possui preciosidades para a existência de cada um. Tive que concordar. E, assim como toda coisa boa, esse conto vale a pena ser passado para outras pessoas. Espero que desfrutem, assim como eu desfrutei.
O conto que transcrevo aqui é da autoria de uma mulher que não conheço. Entrei em contato com ele através de minha amiga Maria Erineide. Segundo ela, este conto possui preciosidades para a existência de cada um. Tive que concordar. E, assim como toda coisa boa, esse conto vale a pena ser passado para outras pessoas. Espero que desfrutem, assim como eu desfrutei.
"Os interiores são regiões abruptas da alma. Fétidas. Expulsam bom senso e as demais moralidades, servem-se fartamente de suas próprias leis, enlamam-se em misérias e toda sorte de perversões. Cinzentas, avermelhadas, negras, suas variações são múltiplas, suas delicadezas profundas, sua sensualidade quente e rasteira. Os interiores não são para qualquer um. Solitários e úmidos, às vezes, ou cheios de barulho e melancólicos quando sofridos por qualquer onda de frio. Pacientes, esperam pela mudança que nunca vem, pelos ciclos eternamente a repetirem-se. Porque é dos interiores a mudança que nada muda, o silêncio perpétuo que só na forma de grito se escuta.
As histórias ali são muitas. Contadas e recontadas servem para alimentar sua cadeia interminável de misérias e vãs piedades e inspirar boas condutas ou potencializar as más. Foi assim que em uma pequena vila completamente esquecida e desencontrada, plantada nos interiores do Brasil, ouviu-se dizer de duas mulheres que viviam juntas. Uma era avó e a outra sua neta. A primeira já era mulher havia um bom tempo, contava já os seus sessenta anos, enquanto a segunda apenas começava a trajetória nem sempre fácil de ser mulher. Viviam em casa simples, pequena e mofada. Antiga, a construção nunca mudara e esboçava nos trincos nas paredes as marcas do tempo, na tinta já descascada os humores dos climas quentes daquelas paragens e, no cheiro forte e denso, os sinais de solidão e do esquecimento.
As duas nunca saíam. Nunca tinham visto nada que não fosse a vila onde viviam. A velha lhe decorara os campos secos e as ruas sem árvores, onde as poucas e espalhadas casas se expunham ao sol forte de quase todos os dias ou às chuvas que vinham de vez em quando pelas beiradas. Nunca vira o mar ou outras paisagens, montanhas só as imaginava, metida que estava no meio de toda aquela planície que nunca mais acabava. Só conhecia estradas retas, rios tímidos e acanhadas árvores. Mas não tinha vontade de conhecer outras geografias. A sua lhe bastava. E bastou-lhe tanto que ela agora passava os dias deitada em um sofá que a prima Dinorá trouxera de Paris, todo moderno, cheio de luxos e cores, vindo do exterior, a contrastar com aquele pedaço de vida que se comprazia em descansar sem estar cansada, em olhar para tudo sem olhar para nada. Um interior seco, tão seco como o que a abrigava.
Dona Marina enlouquecera sem que ninguém nunca lhe soubesse propriamente a causa. Ela inclusive parecia mais sã do que todos ao seu redor, mas, ao mesmo tempo, parecia mais louca do que todo um hospício. Desgostara-lhe a vida, era o que diziam as comadres vizinhas, e da depressão e fastio veio a demência, a fragilidade, a enorme dependência, a infantilização quando velha, a humilhação nem sempre percebida, a insegurança de quem nunca esteve onde gostaria. Camas variadas a abrigaram antes de chegar a esse sofá vindo de tão longe, chique e pomposo, muitas delas bastante sujas e ensebadas. Marina quando chegara ao vilarejo, ainda menina, logo caíra nas graças da prostituição, que da capital rapidamente se espalhava rumo ao interior. A mãe pusera-se ensandecida depois que o pai a abandonou por uma dessas mulatas quentes e oferecidas.
Nesse meio tempo, Marina tornou-se protegida de uma mulher com excessivo cheiro de perfume barato que era dona de uma escondida e quase imperceptível casa de mulheres que a educou e também a iniciou nos prazeres da vida. Eulália, que assim se chamava a benfeitora de Marina, apresentou à então moça os homens mais abastados da região, políticos da vila e das cidades maiores que a cercavam, padres, advogados, professores, empresários, velhos, moços, artistas, homens vazios e cheios de espírito, homens sedentos de amor e outros sequiosos de vícios.
Por um dos tantos homens apaixonou-se, já sabendo que essa seria a grande desgraça da sua vida. Ela ia por essas épocas com vinte e tantos anos e era ele da mesma idade. Grávida e abandonada, Marina continuou vivendo sob os favores de Eulália e continuou trabalhando enquanto pode, mesmo com todos os riscos. Muitos anos depois, viu escorrer-lhe por entre os dedos a filha que, assim como ela, seguira o mesmo destino. Muitos ao comentar o episódio diziam que não podia ser diferente já que ainda na barriga da mãe a filha já escutava os gemidos dos prazeres forçados e o cheiro dos ambientes mais libertinos. Fugida com um aproveitador de quinta, a única filha de Marina foi morrer em um desses hospitais que mais parecem cortiços espalhados por esses interiores sem fim, e deixou a neta que agora acompanha a avó miseravelmente ensandecida. Marina prometera para si mesma que a neta nunca teria que se deitar com quem ela não queria, sentindo aquelas barrigas encharcadas de suor, aqueles bafos de pinga barata, aquelas mãos ásperas, aquele gozo doentio e alucinado ou correndo o risco de quem sabe apaixonar-se por homens que nunca a mereceriam de fato.
A neta seria diferente. E realmente fora. Mas como de destino não se foge, a diferença veio lhe ser fatal. Nina desde sempre enfastiara-se daquela cena sem mudanças, de uma imobilidade mórbida, inócua, ofuscada. Quando a mãe a deixara, ela tinha uns dez anos de idade e a avó já alcançava os cinquenta. Nesse tempo já não exercia mais os antigos ofícios e não podia mais contar com Eulália que falecera. Vivia de trabalhos de costura e de ajudas de antigos clientes que fizeram-se amigos por uma razão ou outra. Muitos sempre buscaram em Marina apenas uma companheira que lhes desse conselhos, talvez, essas coisas só sejam acreditadas por corações ingênuos, mas eis que elas existem, e muitos dos amigos de Marina até hoje a ajudavam em troca de pequenas palavras que lhes provocavam grandes efeitos na alma.
Os primeiros dez anos passaram-se assim muito bem. Até que a avó começou a perder o juízo e ficar naquele estado que há pouco descrevemos. Nesse tempo, a existência compartilhada com uma avó da qual não se podia extrair qualquer tipo de certeza em relação ao estado mental e temperamento, apenas reforçara o imenso tédio que as regiões interioranas causavam a Nina. Alguns fatores, no entanto, atípicos para a solidão e isolamento de sua existência fizeram dela tudo que, por causas naturais, ela não viria a ser.
Marina se devotara à neta, ainda que devotar talvez fosse uma palavra exagerada para seu espírito. Seu devotamento era antes por medo da sua própria solidão do que por alguma espécie de amor maternal. Nunca deixara que a menina trabalhasse, ela vez ou outra lhe ajudava com algum serviço de costura, mas seus planos para a neta eram outros e, por incrível que pareça, justificando o fato de que às vezes ela parecia mais dentro do seu juízo do que muita gente ao seu redor, quando se tratava de questões relativas à neta, Marina era de uma racionalidade invejável.
Um dos amigos mencionado anteriormente ficou incumbido da educação da Nina. Era ele um professor que Marina conhecera quando ele era ainda muito jovem e viera a ela em uma noite chuvosa e morna pedir-lhe conselhos em relação ao primeiro amor, tomando-a como mulher experiente como ele achava que era ela. De espírito vasto, aberto para a poesia e para as demais liberdades da arte, Bento, assim se chamava, lera muito, conhecia música, literatura, sabia grego, latim, e sua índole aventureira estava ávida por transmitir seus conhecimentos a uma nova aluna.
Nina ia por esses tempos lá pelos vinte anos, enquanto Bento já contava quarenta. Mesmo assim, dado ao profundo amadurecimento de Nina, talvez por conjecturas que nem mesmo ela soubesse, e à eterna sensibilidade de Bento, as relações entre os dois iam cada vez melhores e mais próximas, o que logo suscitou comentários na pequena vila onde moravam.
Um dos problemas dos interiores é justamente esse. Certos espíritos que, por lances do destino, saem da normalidade medíocre e rasteira dessas regiões estão fadados a nunca se encaixarem nelas e a tornarem-se objeto da prática que mais germina sob esse solos vis e mesquinhos: os mexericos e as fofocas.
Mas Nina não se incomodava com eles. Fria e resoluta, sugava os conhecimentos de Bento, como a terra suga toda a água que sobre ela paira, e não era só os conhecimentos do professor que ela tomava para si. Arrastava como serpente os olhos negros, os lábios finos de dentes já amarelados, a barba por fazer, os fios de cabelo branco que se misturavam aos negros cada vez mais raros. Fazia com que todo ele se fosse perdendo dentro dela em um misto de feitiçaria e amor, amor que ela não sabia se sentia e não saberia nunca, mas que ele tão bem conhecia por uma vida regada de prazeres, mas nunca assim tão puro, tão inteligente e tão vicioso ao mesmo tempo.
Nos intervalos das aulas, um dos passatempos preferidos de Nina era sentar-se em um sofá em frente à avó, que como dissemos arrastava seus dias de loucura estirada sobre a luxuosa peça francesa, abrir algum livro que atualmente estudava com Bento e simplesmente ficar ali lendo, de vez em quando elevando os olhos das páginas em direção à avó.
Esta soltava de vez em quando um morno comentário do tipo, “gosta de ler não é Nina, ah se eu pudesse ler também, mas não gosto, nunca gostei. Mas ela gosta, como gosta”, e dizia como se conversasse com alguém além delas duas, isoladas pelas paredes velhas daquela sala. Depois, distraidamente, voltava a perguntar, “que livro é esse que está lendo”, Nina respondia o nome do título e logo perguntava se a avó queria ouvir um trecho para distrair a cabeça. A outra tacitamente dizia que não. “Nada de histórias, quem gosta de histórias são as moças, eu já estou velha e já tenho as minhas”.
“Então me conte algumas”, dizia Nina com o espírito curioso que sempre tivera. “Não, não, nem vale a pena, aliás, nem sei se eram minhas”. Nina então voltava para suas páginas como se quisesse fugir da intensa falta que brotava do olhar de Marina. Seus olhos castanhos eram de um vazio quase infinito e neles Nina não conseguia enxergar nada, sequer uma tristeza, um ódio. Nada.
Mas uma coisa interessante acontecia todas as vezes que ela começava a ler, somente riscando as linhas com os olhos. A avó fechava os olhos, coisa que quase nunca fazia, e, no seio do silêncio que se instalava entre as duas, profundo e interminável silêncio, interrompido apenas pelo virar das páginas do livro, a avó parecia viver aquela mesma história que os olhos de Nina percorriam. E ela então via uma revoada de pássaros, imensa, migrando de um ponto a outro, atravessando um imenso mar, deleitava-se em uma praia comendo as frutas mais deliciosas que alguém poderia encontrar, se isolava no meio da floresta e compunha cantigas, velhos poemas esperando que alguém lhe viesse resgatar, e ela era uma heroína que jurara nunca amar, e ela era enfim uma cortesã que amava todas as noites. E ela se lembrava de seus dias de glória, da sua juventude, das suas formas firmes, do seu olhar castanho e dilacerador, ela se lembrava dos homens, dos presentes, dos nojos, dos calafrios, e dos delírios, dos vícios, dos perfumes, do perfume de Eulália, dos cheiros, das danças, do calor, do quarto quente, dos lençóis manchados de sangue, do sangue, da filha, do amor, do sangue…
E Nina fechava o livro e Marina enfim deixava de lembrar. Os olhos se abriam e quando Nina os olhava, ali continuava sem existir nada, e a transformação que há pouco se desenrolara a neta nunca viria a saber, a descortinar, pois, por vontade do destino, seus olhos estavam sempre imersos na página, dentro de outras paisagens, olhando pra baixo enquanto a avó olhava para dentro de si mesma. E os olhos de Marina só se fechavam para dentro de si, quando os olhos da neta também se fechavam dentro de mais aquela história, de mais um daqueles livros tão desinteressantes para Marina, tão necessários para Nina e, no entanto, desencontrados os olhares, as duas viam ao mesmo tempo, as duas iam para o interior.
As relações entre Nina e Bento iam cada vez mais entrelaçadas feito uma corda cheia de nós, virada sobre si mesma da qual não se consegue desvencilhar, para a qual é perigoso muito olhar sob pena de cair em qualquer tipo de tentação. Uma corda que às vezes se converte em cobra, que se enrola em volta de seu pescoço disfarçando ser enfeite enquanto na verdade apenas prepara o bote.
Nina aprendia, aprendia muito. Lia durante o dia, tocava piano durante a noite, dançava em horas vagas, pintava aos domingos, aprendia tudo com Bento que, cada vez mais apaixonado, fazia de sua aluna seu sonho de mulher, seu ideal de poesia, mas, ao mesmo tempo, ia dando a ela as formas de uma incógnita selvagem que quanto mais sabia do mundo, mais se sentia dona de si, independente dos homens, realizando assim o obscuro desejo de Marina, que sempre quisera que a neta, ao contrário dela própria, valesse por si mesma.
Bento ainda não chegara e Nina lia ao lado da avó. Marina estava do mesmo jeito, seu quadro era tão estável quanto os dias e as noites da vila que a abrigava, não havia vento, não havia diferentes folhagens, nada de novo, a eterna mesma paisagem.
O ritual dos outros dias se repetia quase como uma celebração sagrada. A avó comentava os gostos de leitura da neta, a neta lhe oferecia sua história, mas Marina se guardava para a dela. Hoje, Nina lia a história de uma dama da alta sociedade paulistana que se apaixonara por um homem pobre e abandonara toda a família, incluindo um filho, por amor a ele. No entanto, passada a empolgação dos primeiros anos, o amor do seu escolhido por ela esfriara e o peso de todos os seus sacrifícios, somado à imensa desilusão em ver que o motivo pelo qual ela havia feito tudo aquilo não estava mais diante de si, fizeram com que aos poucos ela fosse enlouquecendo, recolhendo-se dentro dela mesma, até que acabou com a sua própria vida, condenando seu grande amor a dias longos de inigualável tristeza e tortura.
Enquanto Nina lia essa história, Marina, de olhos bem fechados, percorria a sua e revivia a vida desde criança até agora. Repassara todos os natais, os momentos sozinha, pensara na filha, na filha dentro do seu ventre, ouvindo seus prazeres fingidos, ou suas dores gozadas, no amor, na perda que sentira, pensava no excesso de prazeres que nunca lhe trouxera nada, que a fizera assim uma coleção de nadas, pensava nas festas, orgias, em campos de paz, em anjos…
Terminada a página daquele dia, Nina cerrou o livro e viu que de dentro dele uma velha flor já murcha e gasta pelo tempo deslizara para o chão. Quando se agachou para apanhá-la percebeu que os olhos da avó estavam bem abertos como sempre, mas mais imóveis do que de costume. Aproximando-se um pouco assustada, identificou neles, pela primeira vez em muitos anos, um resto de lágrima que caíra já seca pelo rosto, e viu dentro dele, bem no fundo, bem no interior invisível das pupilas, a história que terminara de ler e reconheceu uma história na outra e percebeu que sua história, mesmo sem querer, fizera Marina lembrar, ser, pela derradeira vez, o que sempre fora, e uma lágrima brotou dos seus olhos igualmente castanhos, que se iniciavam na vida diante da morte.
Nina chamou Bento para que providenciasse os preparativos para o enterro. Seria algo simples. Marina deixou sua vida sob uma fina chuva que caía, rodeada por muitos homens e por uma única mulher, Nina.
Um mês depois, a neta de Marina esperava por Bento que a levaria para um baile na cidade grande, próxima da vila. Nina já se fizera mulher com toda argúcia e todo espírito que leituras e arte podem dar a alguém. Não se parecia com ninguém da sua idade, todas as moças eram diferentes dela e falavam dela, de sua conduta com Bento, de seu comportamento, diziam: “avó, filha e neta, todas iguais”.
Os bailes se sucederam, purpurinas, lantejoulas, luzes, luxos, danças, bebidas, interesses, vaidades, pudores. A beleza de Nina se multiplicava a cada dia e sua angústia diante do eterno marasmo de sua vida se lhe tornava insuportável. Casara-se com Bento que aos poucos foi se lhe tornando tão tedioso quanto era esperado pela diferença de idade. Amava-o e não o amava ao mesmo tempo. Antes chegara até a admirá-lo, mas agora, agora ela não precisava que ele lhe ensinasse mais nada, como o mar enjoado das pedras, ela cansara de bater-lhe frequentemente, de tirar-lhe os pedaços e voltar sempre enfurecida, eternamente, por nada. Se a avó soubesse que todo o conhecimento que proporcionara à neta pensando que ela teria outro destino, melhor, com boas recordações, era, na verdade, para ela como um abismo que a puxava para baixo, tirando-lhe todo o ar, sufocando-a naqueles interiores secos e selvagens que transformavam toda filosofia e arte em erva daninha e reduziam as almas mais elevadas a pó, não teria deixado a neta abrir sequer um livro, e também ela não teria se salvado.
Depois de casados, eles se mudaram da antiga casa onde Nina vivia com a avó, mas Nina quis levar o sofá onde Marina morrera e onde passara tantos dias deitada. Certo dia, não suportando olhar para o espírito do marido e indignada do que lhe vinha sendo feito dela própria, esfarelada por aquele interior seco e inóspito, lhe pediu que ele lesse a história da dama paulistana em silêncio ao seu lado, e que ficasse concentrado na história, sem olhar para ela. Nina fechou os olhos, mas não se lembrou de nada. Qual era sua história? O que ela havia vivido, o que ela teria esquecido? Nada."
Marcadores: amor, existência, vida
Postagens mais recentes Postagens mais antigas Página inicial
Assinar:
Comentários (Atom)